Inconstitucionalidades do CTB (1):
- Sergio Braga

- 6 de out. de 2020
- 15 min de leitura
Atualizado: 21 de nov. de 2023
Incompetência dos municípios para policiar o trânsito
1. INTRODUÇÃO
Com o advento do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), que completa uma década de vigência, os órgãos e entidades executivos dos municípios foram autorizados a exercer o policiamento e fiscalização das infrações de trânsito nas cidades, procedendo a autuações de veículos e motoristas, sob amparo do artigo 24, incisos VI e VII.
Assim, muitos Municípios, visando atender à nova exigência legal, optaram pela criação de sociedades de economia mista, cuja natureza é de pessoa jurídica de direito privado. Seguiram essa forma os municípios de Belo Horizonte - quando criou a BHTRANS -, de Niterói - quando criou a EMUSA -, de Fortaleza - quando criou a ETTUSA -, de Santos - quando criou a ECT -, dentre outros.
Essa situação, sob a ótica de alguns ramos do Direito (Constitucional, Administrativo, Comercial e Penal), traz insegurança jurídica e conduz à inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, que já padece de inconstitucionalidade formal, conforme demonstraremos.
A fim de analisarmos, amplamente o tema, mas sem a pretensão de esgotá-lo, dividiremos o presente trabalho em quatro partes. Nesta oportunidade, analisaremos a incompetência dos municípios para exercer o poder de polícia quando o assunto é trânsito.
2. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO
O Código Brasileiro de Trânsito estabelece, no art. 5o, o conceito legal de Sistema Nacional de Trânsito.
O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.
Mais adiante, no art. 7o, o mesmo Codex define a composição do Sistema Nacional de Trânsito
Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: (...)
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...)
Conjugando os dois artigos citados, deduz-se que o CTB admite que as entidades executivas de trânsito dos Municípios exerçam o policiamento e a fiscalização do trânsito e a aplicação de penalidades aos condutores infratores.
Corrobora essa dedução o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição.
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
(...) VI – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito. VII – Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar.
Ocorre que, para exercer o policiamento do trânsito é necessário que a entidade esteja investida do poder de polícia, e a Constituição Federal não delegou aos Municípios o poder de polícia para policiamento de trânsito, senão vejamos.
3. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA CR/88
A Carta da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou a repartição de competência (legislativa, administrativa e tributária) como forma de preservação da autonomia das entidades federativas.
Alexandre de Moraes (2002, p. 287), citando José Afonso da Silva, define competência como “faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções”.
Segundo o “Vocabulário Jurídico”, de Plácido e Silva,
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA é o poder que se confere a uma instituição, para que possa elaborar leis sobre determinados assuntos.(...)
A Constituição Federal marca a competência legislativa dos Estados e dos Municípios, e da União, indicando as que são privativas ou exclusivas a cada um deles. (SILVA, 2002, p. 187)
Assim, é a própria Constituição que estabelece as matérias de responsabilidade de cada um dos entes federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), sendo o princípio da predominância do interesse aquele que norteará a repartição de competência.
Alexandre de Moraes leciona, ainda, que à União cabe aquelas matérias e questões de predominância do interesse geral; aos Estados, as matérias de predominante interesse regional; e aos municípios concorrem os assuntos de interesse local. Em relação ao Distrito Federal acumulam-se [1] em regra, as competências estaduais e municipais, com a exceção prevista no art. 22, XVII, da Constituição. (MORAES, 2002, p. 287)
A competência classifica-se em privativa, concorrente e comum. Ives Gandra Martins ensina que na competência privativa, os entes que a possuem excluem a dos demais; na competência concorrente, atuam sobre a mesma matéria, mas em campos diversos; e, por fim, na comum atuam sobre a mesma matéria e nos mesmos campos sem conflito. “A comum, por outro lado, é de atribuição, e a concorrente, legislativa”. (MARTINS, 1990, p. 374)
Passemos, então, à análise da competência constitucional de cada ente federado no que diz respeito ao tema central deste artigo, qual seja, o trânsito.
3.1 - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DE TRÂNSITO
3.1.1 - Competência Privativa
A Constituição da República estabeleceu, no art. 22, inciso XI, uma das vinte e nove competências legislativas privativas da União.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XI – trânsito e transporte
Neste ponto, convém distinguirmos as duas atividades citadas no inciso XI. Nos dizeres de Hely Lopes,
Trânsito[2] é o deslocamento de pessoas ou coisas (veículos ou animais) pelas vias de circulação; tráfego é o deslocamento de pessoas ou coisas pelas vias de circulação em missão de transporte. Daí a distinção entre normas de trânsito e normas de tráfego: aquelas dizem respeito às condições de circulação; estas cuidam das condições de transporte nas vias de circulação. (MEIRELLES, 2001, p. 416/417)
O dispositivo constitucional em comento fixa a competência da União em matéria legislativa, cabendo àquele ente o poder de legislar sobre o assunto.
O poder de legislar ou de regular é o poder de governar, isto é, o poder de restringir, proibir, proteger, encorajar, promover, tendo em vista qualquer objetivo público, desde que não sejam violados direitos constitucionais das pessoas. (FERREIRA FILHO, 2000, p. 166/167)
__________________________________________________________________________________
[1] Por expressa disposição constitucional (CF, art. 32,§1º)
[2] A definição legal esculpida no Art. 1º, § 1º, do CTB é a seguinte " Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga."
Wolgran Junqueira Ferreira, citado por Diógenes Gasparini (1997, p. 35), afirma que
Se o caput diz competir privativamente à União legislar sobre as matérias enumeradas, o privativamente por si só exclui a possibilidade de concorrência ou da supletividade.
Em artigo publicado na “Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo”, Diógenes Gasparini (1997), descreve:
São de ordem legislativa todos os assuntos enumerados neste artigo e que abrangem matérias sobre as quais somente a União poderá legislar. Não poderão os Estados, Municípios e Distrito Federal legislar sobre quaisquer dessas matérias, sob pena de invadir competência exclusiva da União.
Logo, concluímos que não dispõem os Municípios de qualquer competência legislativa em matéria de trânsito, mesmo que seja para aplicação nos limites do seu território.
Sob a ótica do artigo em estudo, o Código de Trânsito Brasileiro não contrariou o comando constitucional, haja vista ser este Codex lei federal.
Ademais, atribuiu ao CONTRAN[3] (Conselho Nacional de Trânsito), órgão da União, a competência normativa suplementar à lei federal, além de funções de coordenação do Sistema Nacional de Trânsito.
A competência de legislação privativa é “monopolística e concentrada na titular dessa competência” (HORTA, 2003, p. 353), ou seja, na União Federal, só se admitindo, de forma excepcional, “a atuação de Estados, mediante lei complementar e, mesmo assim, sobre questões específicas, conforme faculta o parágrafo único do artigo 22 do Estatuto Supremo”. (GASPARINI, 1997)
Art. 22.
(...)
Parágrafo único – Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
Assim, essa delegação aos Estados deve restringir-se a questões específicas, a pontos ou assuntos determinados na lei complementar, sendo, pois vedada a delegação genérica de toda uma matéria. (FERREIRA FILHO, 2000, p. 180)
Esse comando constitucional ameniza a exclusividade da União em relação às matérias privativas, que, segundo Diógenes Gasparini, “poderão ser objeto de delegação aos Estados-membros, sendo certo ainda que, ao praticar o ato delegatório, que é uma lei complementar, deverá esta limitar a outorga de poderes a questão específica” (GASPARINI, 1997, p. 34)
__________________________________________________________________________________
[3] Art.10 O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, com sede do Distrito Federal e presídio pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição: (...) / Art. 12. Compete ao CONTRAN: (...) I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;(...)
Ressalte-se que a delegação descrita no parágrafo único do art. 22 da Constituição não se refere aos Municípios, mas tão-somente aos Estados.
Hely Lopes Meirelles ensina que, via de regra, compete ao ente que legisla policiar.
Assim sendo, os assuntos de interesse nacional ficam sujeitos a regulamentação e policiamento da União; as matérias de interesse regional sujeitam-se às normas e à polícia estadual, e os assuntos de interesse local subordinam-se aos regulamentos edilícios e ao policiamento administrativo municipal. (MEIRELLES, 2003, p. 126)
Exceção a essa regra, só quando as atividades interessam simultaneamente às três entidades estatais.
Ocorre que o trânsito não se enquadra neste caso. Diógenes Gasparini, na abordagem do tema, comenta que “os serviços de trânsito integram atividade relativa à ordem pública, cuja legislação pertinente é da alçada exclusiva da União, uma vez que os interesses envolvidos são nacionais” (GASPARINI, 1997, p. 31)
Completa o autor que a ordem pública carrega a idéia de atividade nacional que, por isso mesmo, não se contém nos estritos limites do interesse local, escapando ao Poder Legislativo municipal.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
(...) noção de ordem pública é puramente nacional. (STF, RE 14.658, Rel. Luis Gallotti)
A conclusão a que se chega é que não é da competência dos municípios legislar sobre as questões de ordem pública, pois cabe à União cuidar dos interesses nacionais. Alias, esta é a conclusão do mencionado doutrinador, in verbis: “Sendo a ordem pública valor nacional, não pode, por conseguinte, ser de interesse local, regulável pelo Município” (GASPARINI, 1997, p. 32)
Posto isto, quando o motorista infrator desobedece a uma norma de trânsito, não está ele violando somente o interesse local. Ao contrário, agride o condutor um valor nacional, de ordem pública.
Logo, inicialmente, compete à União policiar o trânsito; mas abordaremos mais adiante outras previsões constitucionais que atribuem tal competência também aos Estados-membros.
3.1.2 - Competência Comum
O art. 23 da Carta Magna, por sua vez, trata das competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cabendo-lhes, consoante o inciso XII,
Art 23. (...)
XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
Dissemos alhures que a competência administrativa comum é aquela confiada a mais de um ente federativo concomitantemente.
No caso da União, cabendo-lhe legislar privativamente sobre trânsito, o dispositivo em comento torna-se desnecessário, já que ela poderia, sem óbice algum, promover uma política de educação para a segurança de trânsito.
Em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, buscou o legislador constituinte originário incentivar a cooperação federativa no estabelecimento e implantação do plano de educação para tornar o trânsito mais seguro.
O CTB trata, no capítulo VI, da educação para o trânsito. Esse capítulo correspondente aos artigos 74 a 79, que determinam ser a educação para o trânsito direito de todos e dever prioritário do Sistema Nacional de Trânsito.
A exposição de motivos (045/93) do projeto que deu origem à Lei 9.503/97 demonstra a preocupação do legislador derivado em implementar a educação dos usuários de vias públicas:
O comportamento de motoristas e pedestres tem demonstrado despreparo e inadequação de posturas frente ao trânsito, tanto nas cidades como nas estradas. (...)
As estatísticas de acidente de trânsito, ou, mais drasticamente, os números brasileiros de mortos e feridos superam até dez vezes os números observados em países europeus e da América do Norte.
Para modificar esse quadro, é essencial que haja a cooperação dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para desenvolver estratégias de forma a conscientizar os motoristas e usuários da via pública.
Tais regras de cooperação, contudo, devem ser instituídas por lei complementar, conforme estabelece o parágrafo único[4]do mesmo artigo constitucional.
Neste ponto, cabem duas ressalvas. A primeira diz respeito a uma impropriedade. Embora seja lei federal, o CTB classifica-se como lei ordinária, contrariando, assim, o parágrafo único do art. 23.
Segundo Alexandre de Moraes, a Constituição é taxativa em relação às matérias que devem ser objeto de lei complementar, devendo todas as outras ser tratadas por lei ordinária. O quórum para aprovação de lei complementar é de maioria absoluta, ou seja, primeiro número inteiro subseqüente à divisão.
__________________________________________________________________________________
[4] Art.23 (...) Parágrafo Único: Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
dos membros da Casa Legislativa por dois, enquanto a lei ordinária requer quórum de maioria simples. (MORAES, 2002, p. 548/549)
Logo, o processo legislativo da lei complementar é mais rigoroso, haja vista a importância das matérias por ela tratadas, não podendo de forma alguma ser substituído pelo procedimento de lei ordinária, sob pena de ser a lei declarada inconstitucional.
Diógenes Gasparini, em artigo publicado, é enfático e finalístico na sua análise sobre o tema “note-se que a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o atual Código de Trânsito Brasileiro, é lei ordinária, portanto imprópria para estabelecer as aludidas regras”. (GASPARINI, 1997)
Dito isto, só nos resta concluir que todo o capítulo VI do CTB contraria a Carta Magna, portanto, inconstitucional.
A segunda ressalva é que a competência comum do Município em “estabelecer e implantar política de educação no trânsito” não lhe outorga o poder de polícia geral para policiar o trânsito.
Ora, política de educação tem caráter educativo, jamais sancionatório.
Educação. Derivado do latim educatio, de educare (instruir, ensinar, amestrar), é geralmente empregado para indicar a ação de instruir e de desenvolver as faculdades físicas, morais e intelectuais de uma criança ou mesmo de qualquer ser humano. (SILVA, 2002, p. 294)
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação nº 110.371.5/8-00, interposta em Mandado de Segurança em desfavor da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da cidade de Santos, decidiu:
A Constituição Federal não atribuiu ao Município competência para o policiamento, mas tão- somente para implantar política de educação para segurança no trânsito, o que, à evidência, é hipótese bastante distinta de impor penalidades e sanções.
A política para educação de segurança do trânsito é de caráter doutrinário, mas jamais de natureza punitiva.
Concluindo, portanto, a Carta da República outorgou ao Município competência para educar os cidadãos de forma a melhorar a segurança no trânsito, e tão-somente. E o fez mal feito o congressista nacional, pois, não tendo observado o procedimento legislativo correto, tornou inconstitucional todo o capítulo VI do CTB, que trata, conforme dito, da educação para o trânsito.
3.1.3 - Competência Concorrente: exclui os Municípios
O art. 24 da CF/88 traz as matérias cuja competência legislativa é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. O dispositivo citado não prevê a competência concorrente do Município para a produção de leis, que a tem dentro de certos limites, todavia, de forma suplementar, por força do art. 30, inciso II.
3.1.4 - Competência dos Municípios
Finalmente, o art. 30 da Carta da República trata da Competência dos Municípios. Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina que a atual Constituição preferiu adotar a técnica de enumerar as competências dos Municípios a repetir as anteriores, que deixou implícitas na referência ao peculiar interesse municipal. (FERREIRA FILHO, 2000, p. 216).
Por peculiar interesse municipal, citado nas Constituições anteriores, devemos entender “tudo aquilo que for predominantemente, preponderantemente, de seu interesse”. (FERREIRA FILHO, 2000, p. 217)
Na Constituição de 1988, a expressão deu lugar a interesse local.
Art 30.Compete aos Municípios:
I – legislar sobre os assuntos de interesse local;
Ante a modificação de expressão adotada pelo legislador originário, parte da doutrina concluiu que a CF/88 restringiu a autonomia municipal:
Forçoso é concluir, pois, que a Constituição restringiu a autonomia Municipal e retirou de sua competência as questões que, embora de seu interesse também, são do interesse de outros entes. (FERREIRA FILHO, 2000, p. 217)
Essa análise reforça o que foi dito anteriormente: sendo o trânsito matéria de interesse da União, cabendo-lhe privativamente legislar sobre o assunto, não há que se falar em competência do Município para legislar sobre trânsito.
A doutrina destaca que a competência municipal acerca de trânsito se resume à organização do transporte público municipal, direcionamento das vias de circulação, dentre outros.
Já referente aos Municípios, no território de sua jurisdição lhes assiste direcionar o trânsito, organizando-o de modo a melhor atender os usuários, dentro da competência restrita aos interesses locais e, assim, exemplificativamente, no pertinente ao transporte de cargas em determinadas vias, ao sentido de direção dos veículos em certas vias. (RIZZARDO, 2004, p.41)
Outro inciso que causa grande dificuldade de interpretação refere-se à suplementação da legislação federal e estadual pelo Município.
Art 30. Compete aos Municípios:
(...)
II – suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
Suplementar pode significar tanto complementar[5], quanto suprir[6]. O art. 24 da CF, ao tratar da competência concorrente e competência suplementar dos Estados, não contempla os Municípios, conforme dissemos.
Logo, não podemos estender a interpretação do inciso II do art. 30 a ponto de autorizar o Município a legislar sobre qualquer matéria, complementando ou suprindo a legislação federal ou estadual.
Ao contrário, a melhor interpretação é a de que o dispositivo autoriza o Município a regulamentar a legislação federal e estadual de forma a ajustar sua execução a peculiaridades locais. “Destarte, aqui, a competência não seria propriamente legislativa, mas administrativa: a competência de regulamentar leis”. (FERREIRA FILHO, 2000, p. 217)
Regulamentar, nesse caso, implica poder dispor de regras subsidiárias, de modo a conduzir determinadas situações, já dispostas por lei, na localidade.
(...) competência suplementar dos Municípios, consistente na autorização de regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua execução a peculiaridades locais (...) (MORAES, 2005, p. 765)
Em resumo, os incisos I e II do artigo 30 da CF/88 limitam a competência legislativa municipal àquelas matérias não tratadas nas competências de outros entes e, quando muito, autorizam o ente a regular normas federais e estaduais.
Sobre o tema, Diógenes Gasparini conclui que não cabe ao Município suplementar legislação federal constante do artigo 22 da Constituição. “Elas poderão ser objeto de delegação aos Estados-membros”. (GASPARINI, 1997, p. 34)
4- FORMA DE INTERPRETAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
Quando se trata de competência dos entes federativos, não devemos optar por uma interpretação extensiva. Nesse sentido, é o voto do ministro do STF, Celso de Mello, ao julgar a ADI-724-6-RS:
A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa (...)
A linha de raciocínio para a iniciativa reservada não deve diferir da usada para as competências dos entes. Não fosse esta a intenção do Constituinte Originário, não haveria razão de se prever a competência residual ou remanescente dos Estados, prevista no Art. 25, 1º, da CR/88[7]
__________________________________________________________________________________ [5] Indica a parte que se vem anexar à outra parte, para torná-la perfeita (SILVA, 2002, p. 187)
[6] Exprime a ação e efeito de suprir, ou de completar, o que falta em alguma coisa, para que se mostre perfeita. (SILVA, 2002, p. 787)
[7] São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição
Assim, é de competência privativa dos Estados toda competência que não for da União (art. 21 e 22), dos Municípios (art. 30) e Comuns (art. 23).
José Afonso leciona que competência reservada ou remanescente ou residual
Compreende toda a matéria não expressamente incluída numa enumeração, reputando-se sinônimas as expressões reservada e remanescente com o significado de competência que sobra a uma entidade após enumeração da competência de outra (art. 25, § 1o: cabem aos Estados as competências não vedadas pela Constituição). (SILVA, 2005, p. 480)
Ora, se os Municípios tiveram sua competência restringida, conforme expusemos, aceitar uma interpretação extensiva, permitindo a esses entes (art. 30, inciso I, CF) legislar sobre qualquer assunto, torna inútil a previsão da competência residual. Qual matéria sobraria ao Estado?
Ademais, Francesco Ferrara menciona especificamente em quais casos a interpretação restritiva deve ser aplicada:
1º) Se o texto, entendido no modo tão geral como está redigido, viria a contradizer outro texto de lei; 2º) se a lei contém em si uma contradição íntima (é o chamado argumento ad absurdum); 3º) se o princípio, aplicado sem restrições, ultrapassa o fim para que foi ordenado. (FERRARA, 2002, p. 43)
A interpretação extensiva das competências dos Municípios permite a invasão de competências e contradiz o próprio texto constitucional.
Vale trazer à colação a lição de Álvaro Lazzarini, citada por Cássio Honorato (2005): “Não há, em Direito Administrativo, competência geral ou universal. A competência sempre decorre de lei e por ela é delimitada”.
A Constituição de 1988 delimitou, conforme expusemos, a competência dos Municípios em matéria de trânsito – política de educação de trânsito.
Logo, inconteste que a leitura das competências dos entes federativos deve ser feita de forma restritiva.
5. CONCLUSÃO
Por tudo isso exposto, conclui-se que o CTB, ao autorizar a fiscalização e policiamento do trânsito pelos Municípios, ampliou demasiadamente a atividade deste ente em relação ao trânsito.
O legislador derivado, em inovação ao estabelecido pela Assembléia Constituinte, delegou ao Município, por meio do art. 24 do CTB, o poder de polícia para autuar motoristas infratores, sendo que tal poder restringe-se àquele que compete legislar sobre o assunto: a União e os Estados-membros, por força do parágrafo único do Art. 22.
A conclusão a que se chega é inafastável: se a Constituição não delegou aos Municípios competência para legislar sobre o trânsito e, consequentemente, para policiá-lo, é inconstitucional o art. 24, incisos VI e VII, do CTB e qualquer outro dispositivo que autorize tal atividade à municipalidade.
6. BIBLIOGRAFIA
1. BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Volume 3, Tomo 1. São Paulo. Editora Saraiva. 1990.
2. BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro (1997). Brasília: Senado, 1997.
3. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.
4. BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 724-6-RS. Rel. Celso de Melo.
5. BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 14.658. Ação de Investigação de Paternidade. Recorrente: Henrique Pereira (menor) representado por sua mãe D. Rosalina Pereira de Alvarenga. Recorrida: Maria Amélia Braga. Relator: Luis Gallotti. 03 jul. 1950.
6. FERRARA, Francesco. Como aplicar e interpretar as leis. Belo Horizonte. Editora Líder. 2002.
7. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Volume 1. 3a edição. São Paulo. Editora Saraiva. 2000.
8. GASPARINI, Diógenes. Novo Código de Trânsito: os Municípios e o Policiamento. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. São Paulo, n. 47/48, Janeiro/Dezembro. 1997.
9. HONORATO, Cássio Mattos. Sanções do Código de Trânsito Brasileiro: Análise das Penalidades e das Medidas Administrativas cominadas na Lei 9.503/97. Campinas/SP. Millennium Editora. 2004.
10. HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 4a edição. Belo Horizonte. Editora Del Rey. 2003.
11. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28a edição. São Paulo. Malheiros Editores. 2003.
12. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 12a edição. São Paulo. Malheiros Editores. 2001.
13. MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a edição. São Paulo. Editora Atlas. 2005.
14. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 12a edição. São Paulo. Editora Atlas. 2002.
15. RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 5a edição. Editora Revista dos Tribunais. 2004.
16. SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 110.371.5/8-00. Mandado de Segurança. Apelante: Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos (CET). Apelado: Silmar da Silva Dias. Relator: Magalhães Coelho. 08 ago. 2000.
17. SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 19a edição. Rio de Janeiro. Editora Forense. 2002.
18. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24a edição. São Paulo. Malheiros Editores Ltda. 2005
7. SOBRE O AUTOR
SÉRGIO JACOB BRAGA é advogado, graduado pela PUC-Minas/Betim e pós-graduado em Direito Processual pela UNAMA/LFG – Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes; mestrando em Direito Público Internacional pela PUC/Minas; membro da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativa da OAB/MG.
Publicado em 11 de setembro de 2008 – ISSN 1980-4288 – Jornal Jurid
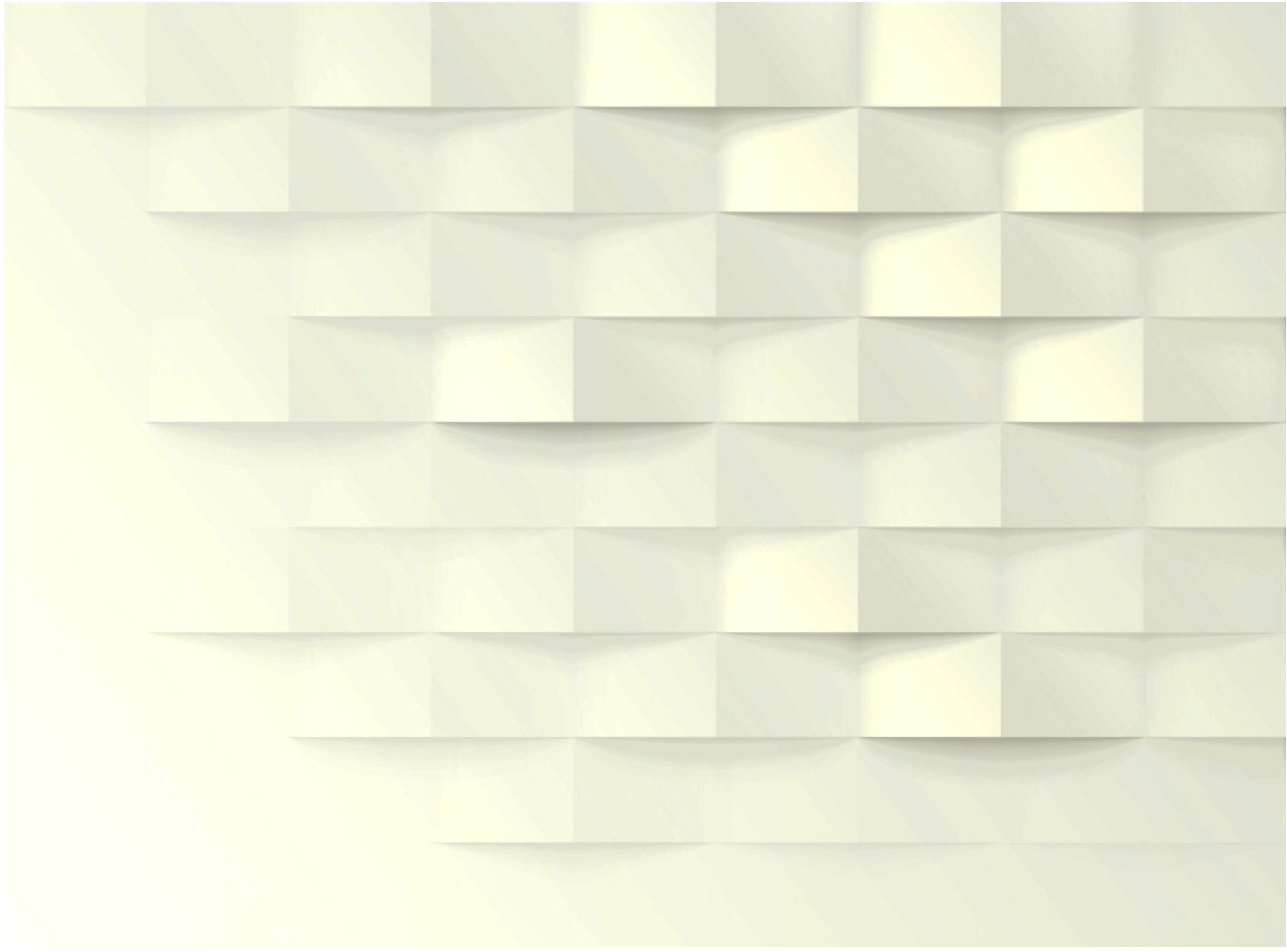





Comentários